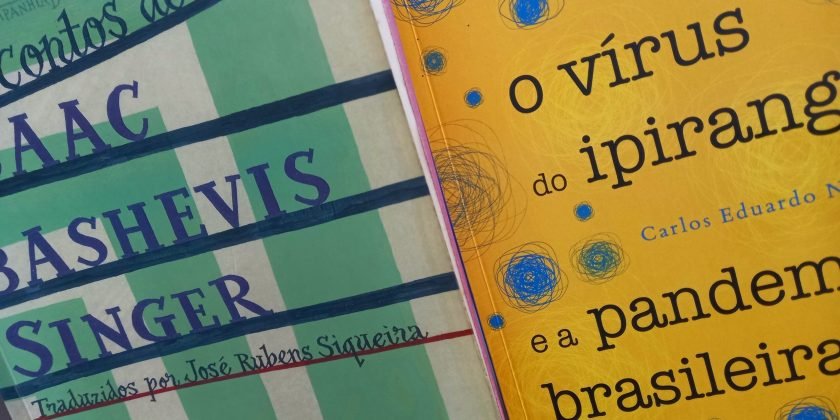Não sei se acontece com vocês, mas sou useira e vezeira em deixar um livro recém adquirido na estante por tempos a fio. Lá um dia, buscando qualquer outra coisa, vejo o livro, puxo, começo a folhear e… pronto! Lá se vai a pesquisa que eu estava fazendo para depois, atraso até minha produção, porque muitas vezes, logo nas primeiras páginas, eu percebo o motivo que me levou a adquirir o livro que estava em minha estante e reacende meu interesse.
Foi assim com “47 contos de Isaac Bashevis Singer” (Ed. Companhia das Letras), editado em 2004. Há cerca de dez dias, pesquisando outra coisa, decidi passar os olhos sobre ele. E não me desgrudei mais. Virou meu livro de cabeceira.
Eu já conhecia o autor pelo seu romance “Shosha”, uma história de amor entre uma menina que só se comunicava pelo idioma iídiche, Shosha, e o jovem Aaron, que jura amor eterno à moça mas vai viver a vida, distanciando-se do mundo de Shosha. Uma história que enternece, encanta.
E lá estava eu, de novo enternecida com as palavras ao mesmo tempo doces, tristonhas, descrevendo com o prazer de quem viveu num mundo solitário mas rico, muito rico. “O Spinoza da rua do Mercado” é um dos contos.
Uma das peculiaridades de Isaac Singer é a solidão que demonstra em cada palavra, em cada frase, em cada formação de cenário e na maneira como conta as suas histórias. Mas, diferentemente do que se possa imaginar, não é uma solidão amargurada, não é uma situação desesperada. Ser só é um atributo que faz parte dos personagens que, em geral, lidam muito bem com sua rotina.
Em “O Spinoza…”, o autor conta a história do dr. Naum Fischelson, “um homem baixo, curvado, de barba grisalha e bem careca, a não ser por uns fiapos de cabelo que sobravam na nuca”. A riqueza da descrição, como se vê, é quase comparável à de histórias infantis.
Fischelson mora num quarto de sótão na rua do Mercado e tem algo que o diferencia da maioria dos solitários que deviam morar naquela rua em Varsóvia, pouco antes da I Guerra Mundial, quando a história se dá. Fischelson não se desgrudava, em momento algum, do livro “Tratado sobre a Ética”, do filósofo Baruch Spinoza. Estudava o tratado, sabia cada frase, e estava pensando em escrever a respeito.
É genial imaginar que Singer elege Spinoza, um pensador do século XVII, excomungado, proscrito, por ter ousado pensar em Deus como uma extensão infinita, não um único ser. Mais genial ainda é vê-lo situar o conto no momento em que seu personagem, um homem que vive sofrendo com dores estomacais e já não se sente interessante para ninguém à volta, constrói para si um escudo:
…”na medida em que era parte da divindade, [Fischelson] sabia que não podia ser destruído”.
E sim, o homem fraco, doente, invisível aos outros numa cidade que vive os horrores da guerra, encontra sua força no prazer. Até porque, como bem dizia Spinoza… “o ato mais moral que um homem pode perpetrar é permitir-se algum prazer que não seja contrário à razão”.
Chega de spoiler. Recomendo o livro. Há outras descobertas em outros contos. E o mundo do leitor vai só se ampliando.
Na esteira das descobertas, e já que estou recomendando a leitura de livro, segue “O vírus do ipiranda e a pandemia brasileira”, de Carlos Eduardo Novaes, que acabo de ler. Uma bela surpresa, de certa forma também seguindo a linha realismo fantástico. O estilo de Novaes é conhecido: bem humorado, às vezes irônico. E, como bom jornalista que é, nunca deixa de dar informações de qualidade ao leitor.
O que não falta nesse pequeno livro editado pela Giostri são informações. Novaes conta a história, narrada a partir do ponto de vista dos microorganismos, do vírus brasileiro que se esforça para encontrar seu lugar “ao sol”, ou seja, dentro do corpo de alguém. É um vírus “do bem”, diferentemente de alguns de seus colegas que querem provocar a pandemia e, assim, acabar com a humanidade. No caso, a humanidade é a grande vilã, aquela que cria vacinas para destruir a comunidade dos vírus.
O livro foi editado dois anos depois da Covid-19. Não preciso contar o fim da história, porque todos sabemos. Vencemos a pandemia provocada pelo Corona, algo que pôs toda a comunidade viral em polvorosa. Mas não sabemos se seremos capazes de vencer outras.
Hoje mesmo, no site do jornal O Globo, há uma notícia sobre o vírus Cordyceps, protagonista da série “The Last of Us”, que está no ar no canal HBO. Na trama fictícia, o vírus transforma seres humanos em zumbis canibais. Jornalistas correram atrás e descobriram que o vírus não é obra da imaginação dos autores da série.
Na natureza, o Cordyceps ataca formigas e causa uma esculhambação em seu sistema nervoso antes de levá-las à morte. O mais importante: ele vive em florestas tropicais. Como habitamos um país que tem a maior floresta tropical do mundo, este é um dos muitos inimigos não visíveis a olho nu que nos rondam e podem nos derrubar.
Fica a dica de leitura para mais e mais reflexões sobre nossa era. Em quê, exatamente, ela se diferencia do início do século passado, quando viveu o solitário pensador Isaac Singer?
Hoje conseguimos mapear mais facilmente, com a ajuda da tecnologia, nossos minúsculos inimigos. Isto é fato. Mas é fato também que estamos longe de aprender a prevenir seu ataque, sua sobrevivência.
Como diz a rainha Influenza, sábia vírus da história contada por Carlos Eduardo Novaes, em carta à humanidade, “O planeta, creiam!, está intubado e respira por aparelhos. Ou vocês mudam ou nos aguardem na próxima esquina”.
Ainda temos tempo de mudar, portanto.
Amelia Gonzalez é jornalista, foi editora por nove anos do caderno Razão Social do jornal ‘O Globo’ e colunista do Portal G1, também da Globo. Atualmente mantém o Blog Ser Sustentável, onde escreve sobre desenvolvimento sustentável e colabora na Revista Colaborativa Pluriverso e aqui, na revista Entrenós, uma parceria da Casa Monte Alegre e a Pluriverso.